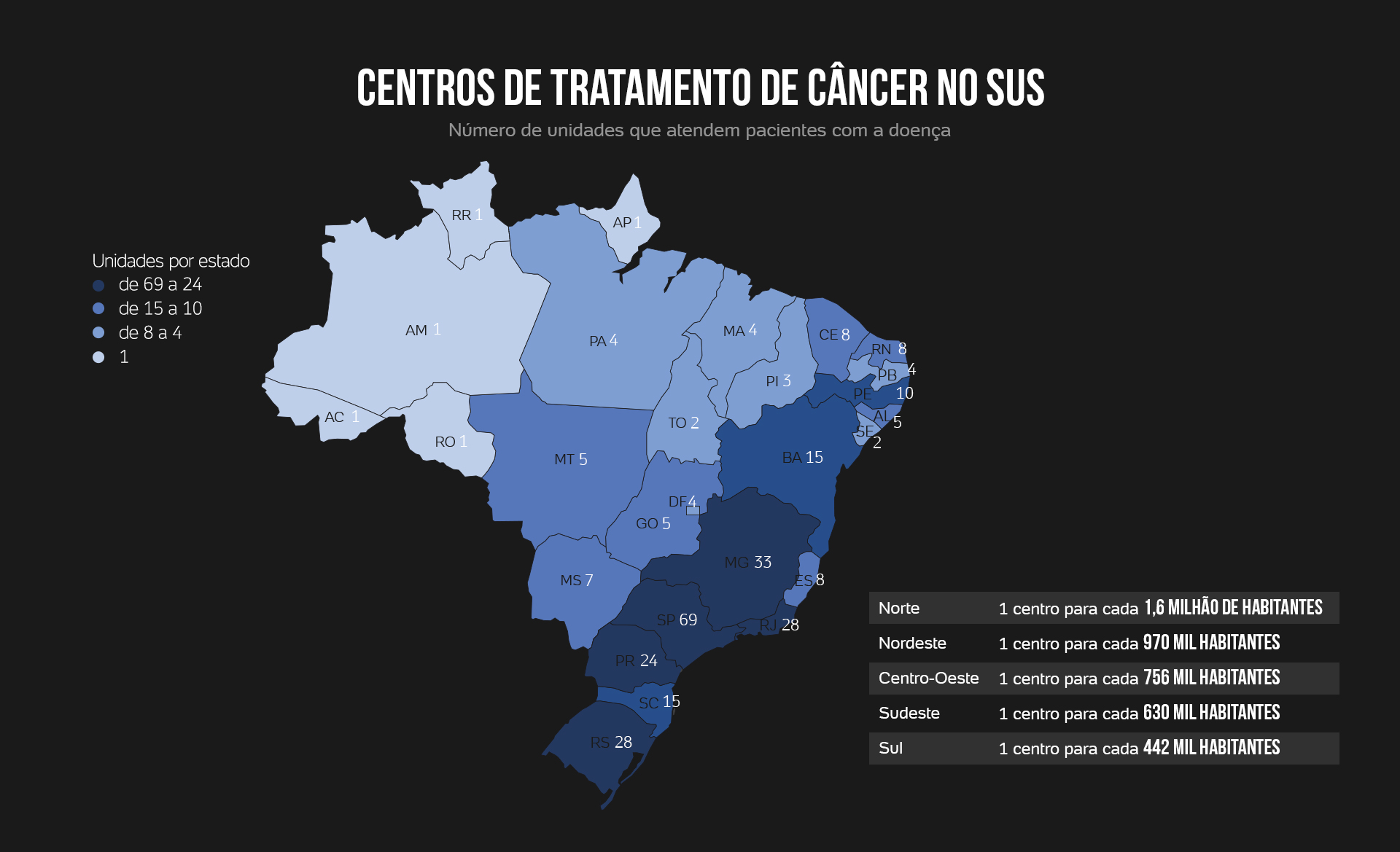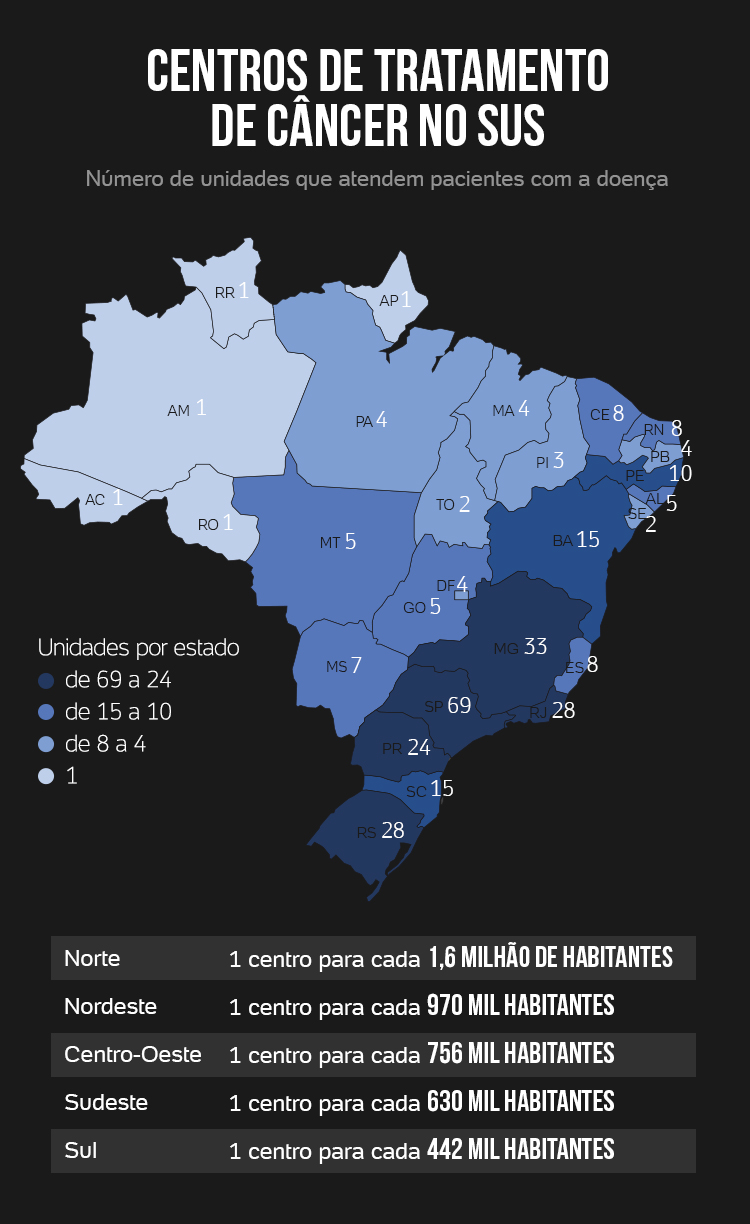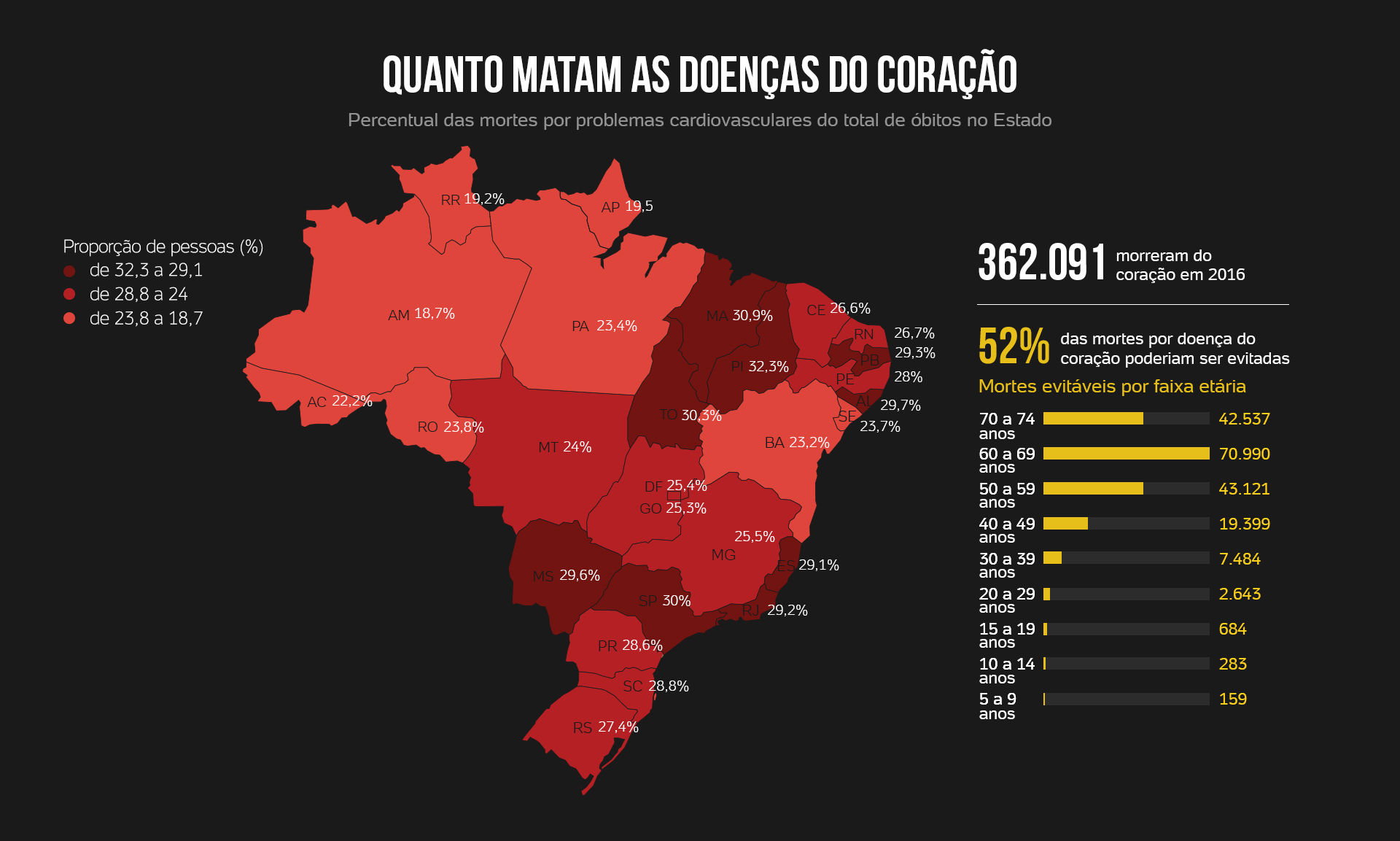Amanda Perobelli/UOL
Amanda Perobelli/UOL "Relatei para o médico minhas desconfianças, mostrei a mamografia que havia feito no ano anterior e a resposta foi: 'O que a senhora está precisando é de uma pia cheia de louça para lavar'. Saí do consultório arrasada", lembra Elfriede.
Em 2010, foi incentivada por uma conhecida a procurar o Hospital Pérola Byington, na capital paulista. E foi lá que ela conseguiu ser ouvida e tocada pela primeira vez.
"Passei por uma triagem, que, depois de avaliar a mamografia de quase dois anos atrás, aquela mesma que outros dois médicos ignoraram, me deu a senha para passar por um mastologista. Até chorei de tanta emoção."
Na consulta, o médico disse se tratar de um câncer de mama, que, possivelmente, já tinha se espalhado para outros órgãos. Diagnóstico que se confirmou pouco tempo depois com a biópsia. Desde 28 de abril de 2010, a aposentada --atualmente com 62 anos-- luta para se manter viva.
Em oito anos, ela passou por seis tipos diferentes de quimioterapia. Viu os cabelos caírem quatro vezes. Teve que retirar toda a mama direita, mas, por causa da metástase, não pode optar pela reconstrução.
Talvez tudo fosse diferente se eu tivesse recebido o tratamento da primeira vez que consultei o médico.