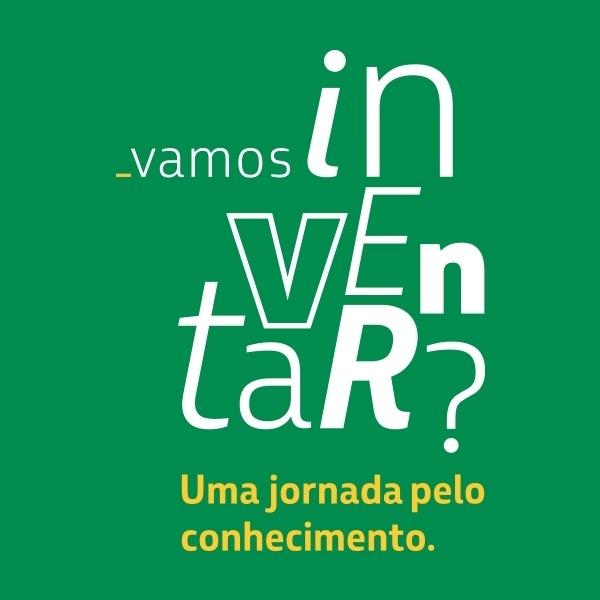É possível supor com segurança razoável o que passou pela cabeça de nossos ancestrais quando decidiram sair da África em direção ao desconhecido: uma dúvida. Há cerca de 60 mil anos, aquele pequeno grupo de humanos queria saber. O que há além da montanha? E se lá for melhor do que aqui? Depois dessa primeira expedição, ocupamos todo o planeta, em ambientes diferentes, quentes e frios, no deserto, na floresta, na montanha, perto do mar.
"O que nos torna tão adaptáveis? Em uma palavra, cultura: nossa habilidade de aprender com os outros, de copiar, imitar, compartilhar e melhorar", diz o jornalista australiano Ian Leslie em seu livro "Curious: The Desire to Know and Why Your Future Depends on It" (Curioso, o desejo de saber e por que seu futuro depende dele, na tradução livre).
Todo ser humano é um potencial transmissor de cultura, e já nascemos ávidos por explorar o conhecimento de nossos pais ou cuidadores. Estudos mostram que mesmo antes de dominar a linguagem, ao apontar o dedo para algo, um bebê está fazendo uma pergunta: ele quer entender.
Na história do planeta, a curiosidade sempre foi a mola propulsora das mudanças. O cientista é um eterno curioso, alguém que não acredita em verdades prontas

A história da curiosidade se confunde com a história do pensamento humano. Sócrates, um dos fundadores da filosofia ocidental, era um defensor do questionamento. "O que ele faz é perguntar. Sócrates pede explicações aos considerados especialistas, mas percebe que eles não sabem tudo. E o problema não é não saberem, mas não dizerem 'não sei'", diz Cristina Agostini, professora de Filosofia do colégio e da Universidade São Judas, em São Paulo.
Ele então se dá conta de que assumir o desconhecimento é uma espécie de sabedoria - é atribuída a ele a famosa frase "Só sei que nada sei". "Sócrates pensava assim: como sou consciente da minha ignorância, continuo a perguntar", diz Cristina.
Na Grécia antiga, curiositas significava a busca pelo conhecimento por si só. Os homens investigavam o mundo e teciam teorias sobre ele porque era interessante e não por um objetivo específico.
Os romanos herdaram essa visão. "Cícero chamava a curiosidade de paixão pelo saber e dizia que Ulisses havia se encantado pelas sereias porque elas tinham prometido satisfazer sua enorme curiosidade intelectual, e não seu desejo sexual", conta Ian Leslie sobre o herói da "Odisseia" de Homero. Porém, com a expansão do catolicismo, a curiosidade ganhou críticos.
Entre eles, um dos mais notórios, Santo Agostinho. "Ele rejeita a curiosidade porque entende que com ela você caminha de costas para Deus", explica a filósofa Yolanda Gloria Muñoz, do departamento de Filosofia da PUC-SP. "Você tem que abandonar o mundo exterior para ir para o interior e daí ao superior, para então ter um diálogo com Deus", completa.
Para Santo Agostinho, a curiosidade era inútil, pervertida e uma demonstração de orgulho. Era uma distração que tirava o homem do caminho correto e uma arrogância: o desejo de ver o que não era mostrado por Deus era um atentado contra a autoridade divina.
A curiosidade só se redimiria na visão da Igreja cerca de 900 anos depois, com São Tomás de Aquino. Ainda assim, parcialmente. Para o italiano, valia perguntar -- mas somente se o propósito fosse encontrar a verdade sobre a criação divina.

A partir do Renascimento, nos séculos 16 e 17, a curiosidade ficou sob holofotes. Nessa época, viveram cientistas que não tinham medo de fazer perguntas -- ainda que colocassem em xeque visões consolidadas e apoiadas por gente poderosa, leia-se, a Igreja Católica. Um deles foi o astrônomo e matemático polonês Nicolau Copérnico, autor da teoria heliocêntrica, que colocava o sol no centro do universo. "E se for a Terra que gira? Por que nós temos que ser o centro sempre? Foram questões muito importantes na história da filosofia que mudaram um paradigma", diz Cristina Agostini.
A teoria de Copérnico contradizia a abraçada pela Igreja, de que a Terra era o centro do universo, e foi publicada em um livro póstumo que acabou sendo banido pela Inquisição. Na mesma época, o matemático e filósofo italiano Galileu Galilei também precisou se haver com a Igreja. Expoente da Revolução Científica, Galileu moldou o método científico como conhecemos hoje, baseado em cálculos matemáticos e experimentos, e não apenas na observação e na especulação metafísica. Ele buscava explicar o universo matematicamente e questionou muitos conceitos estabelecidos, retomando a teoria heliocêntrica. Porém, foi proibido de divulgar suas ideias pelo Tribunal do Santo Ofício.
Talvez nenhum outro pensador tenha incomodado mais do que o teólogo e filósofo Giordano Bruno, que defendia que o universo é infinito. Para ele, a verdade deveria prevalecer sobre as crenças. Por não abrir mão do que acreditava, foi queimado pela Inquisição. Questionar era perigoso naquela época.
As teorias e a coragem destes homens abriram caminho para outros que também ajudaram a transformar a visão de mundo e do universo, como o matemático alemão Johannes Kepler e o físico inglês Isaac Newton.
Além da efervescência científica, essa época foi marcada ainda pela expansão das trocas comerciais entre países. Percorrer longas distâncias era possível e os viajantes voltavam com histórias, temperos e objetos de terras exóticas, verdadeiros estímulos para a curiosidade. Porém, "se a Renascença, o comércio internacional e a Revolução Científica fizeram a curiosidade respeitável de novo, foi a prensa que a popularizou", argumenta Ian Leslie.
No século 18, quase três séculos após a sua criação, a máquina de impressão tipográfica de Gutenberg tinha aumentado significativamente a quantidade de informação em circulação na Europa. Livros eram produzidos em massa e havia os jornais: verdadeiros combustíveis para a curiosidade que impulsionou grandes descobertas como a luz elétrica e a teoria da evolução das espécies. Era o Iluminismo, o movimento intelectual e filosófico que colocou a razão no centro do pensamento europeu, valorizando a visão crítica e o questionamento do mundo. Uma das máximas iluministas, cunhada pelo filósofo alemão Immanuel Kant, era "sapere aude", ou "ouse saber".
Outro representante desse movimento, o filósofo escocês David Hume, tratou diretamente da curiosidade, dividindo-a em dois tipos: "amor pelo conhecimento" e "desejo insaciável de saber sobre as ações e as circunstâncias do próximo", uma divisão que demonstrava o sentimento ambíguo em relação a essa sensação.
Na mesma época, com a consolidação das cidades, vieram novos alimentos para a curiosidade. "Estrangeiros, um fenômeno raro em uma vila, estavam em todos os lugares da cidade, e sua estranheza era um convite à investigação ou, ao menos, para especulação. No quarto debaixo, ou logo na esquina, estavam paixões secretas, crenças bizarras, costumes esquisitos", aponta Ian Leslie.
Combinadas a isso, a industrialização e a consolidação de instituições científicas e das universidades modernas permitiram que mais jovens adultos pudessem ir além das tarefas de sobrevivência básica (alimentar suas famílias, lutar, se reproduzir) para buscar, receber e viver da construção do conhecimento. A informação, e as perguntas geradas pelo saber, não eram mais privilégio de poucos. Não demorou para que a ordem social virasse alvo de questionamentos. Essas perguntas levariam, por fim, às grandes reformas políticas e sociais do século 19.
Ainda aproveitamos o legado da avalanche de curiosidade gerada durante o Iluminismo; ela inspirou dezenas de invenções cruciais e avanços no nosso entendimento sobre quem somos e como chegamos aqui

A abundância de informações e a facilidade de acesso a elas definem a nossa relação com a curiosidade nos dois últimos séculos. Antes da internet, já havia uma consciência sobre o excesso de conhecimento disponível.
Em um artigo na revista Atlantic Monthly em 1945, o engenheiro americano Vannevar Bush, que havia dirigido o Escritório de Pesquisa Científica e Desenvolvimento dos EUA, apontou que a quantidade de informações publicadas no mundo excedera, em muito, a nossa capacidade de usá-las. "O somatório da experiência humana vem se expandindo a uma taxa extraordinária, e os meios de que dispomos para nos mover nesse labirinto até chegar a um item importante é a mesma dos dias das caravelas". No mesmo artigo, ele descrevia a máquina que chamou de memex, onde seria possível guardar e abrir documentos utilizando o microfilme. Da mesma forma que a mente faz associações, a máquina faria com documentos. Bush previu a estrutura da internet e do hiperlink, mas morreu sem ver a popularização da web.
Hoje, em segundos temos a resposta para praticamente qualquer pergunta, das técnicas às metafísicas, você escolhe. A internet pode ser um banquete para os curiosos. Pode ser porque não necessariamente é: seu uso superficial, sem orientação, traz respostas fáceis e a curiosidade se alimenta da dúvida. Como os especialistas a quem Sócrates interrogava, o Google nunca diz "eu não sei". Isso quando ele é usado de fato para responder uma questão gerada por alguma inquietação ou pela observação da realidade.
Em seu livro, Ian Leslie cita a pergunta de um usuário da rede social Reddit, uma comunidade de fóruns onde o internauta pode votar no conteúdo. "Se uma pessoa dos anos 1950 aparecesse de repente hoje, o que seria mais difícil de explicar a ela sobre a atualidade?" A resposta mais popular foi: "Tenho, no bolso, um aparelho que é capaz de acessar a totalidade da informação conhecida pelo homem. E o uso para ver fotos de gatinhos e discutir com estranhos".
Ou seja, a internet, por si só, não é uma estimuladora de perguntas. Para isso, é preciso fazer um uso consciente -- e crítico -- dela. "Temos vários textos gratuitos online, mas como me apodero dessas informações se não sei o que é importante e relevante?", questiona a professora Cristina Agostini. "A gente tem uma falsa de ideia de que tem acesso a mais conhecimento. Uma coisa é de fato conhecer, e conhecer não é não ter dúvidas, mas o contrário: quanto mais me acerco do mundo, mais quero entender como ele funciona", conclui.

Uma informação que satisfaz nossa curiosidade aumenta a atividade na região caudal do cérebro - a mesma que costuma ficar mais ativada quando pensamos em uma recompensa. Foi o que demonstrou um estudo publicado em 2009 nos EUA. O mesmo estudo mostrou que a região da memória ficou ativada quando as pessoas receberam uma resposta para suas dúvidas. Os pesquisadores concluíram que, quando há mais interesse em uma informação, a memória funciona melhor para retê-la.

Crianças fazem muitas perguntas. Mas quantas? Foi essa a dúvida que moveu uma psicóloga dos EUA a examinar cerca de 229 horas de gravações das conversas com adultos de quatro crianças desde os 14 meses até os cinco anos. No fim, concluiu: em média, elas faziam 107 perguntas por hora. Algumas delas eram tentativas de chamar atenção, mas cerca de dois terços tinham como objetivo conseguir alguma informação. A conclusão da pesquisadora foi que fazer perguntas é um aspecto central do que significa ser criança.

Você caça informações sobre a vida do seu (ou sua) ex mesmo que isso lhe magoe? Outro estudo dos EUA mostrou que a necessidade de saber é tão forte que as pessoas buscam saciá-la mesmo quando isso lhes causa dor. Colocaram várias canetas em frente a dois grupos. Para o primeiro, disseram quais davam choque ao serem acionadas e, para o segundo, disseram apenas que algumas davam choque. Os estudantes que não sabiam quais canetas machucariam foram os que mais as testaram: não se importavam com a dor, desde que conseguissem descobrir a resposta.

Mas a curiosidade não precisa vencer sempre. Em um estudo da Universidade de Chicago com a Wisconsin School of Business, participantes que foram encorajados a imaginar como se sentiriam após ver uma foto de algo incômodo tendiam a não querer ver essa imagem - nem para comprovar a má impressão. O resultado sugere que "pensar nas consequências a longo prazo é essencial para mitigar os possíveis efeitos negativos da curiosidade", diz Christopher Hsee, da Universidade de Chicago, co-autor do estudo.

A maior parte dos cientistas costuma classificar a curiosidade em dois tipos. O primeiro é a curiosidade epistemológica, aquela que se aprofunda em "como" e "por quê". O segundo tipo é a diversiva. Um exemplo? A lista de afazeres de Leonardo da Vinci. Em um dos seus cadernos, estão enumeradas tarefas tão diferentes entre si quanto "calcular a medida de Milão", "perguntar ao Mestre Antonio como os morteiros são posicionados nos bastiões, de dia ou de noite" e "encontrar um especialista em hidráulica e pedir-lhe que explique como consertar uma comporta".