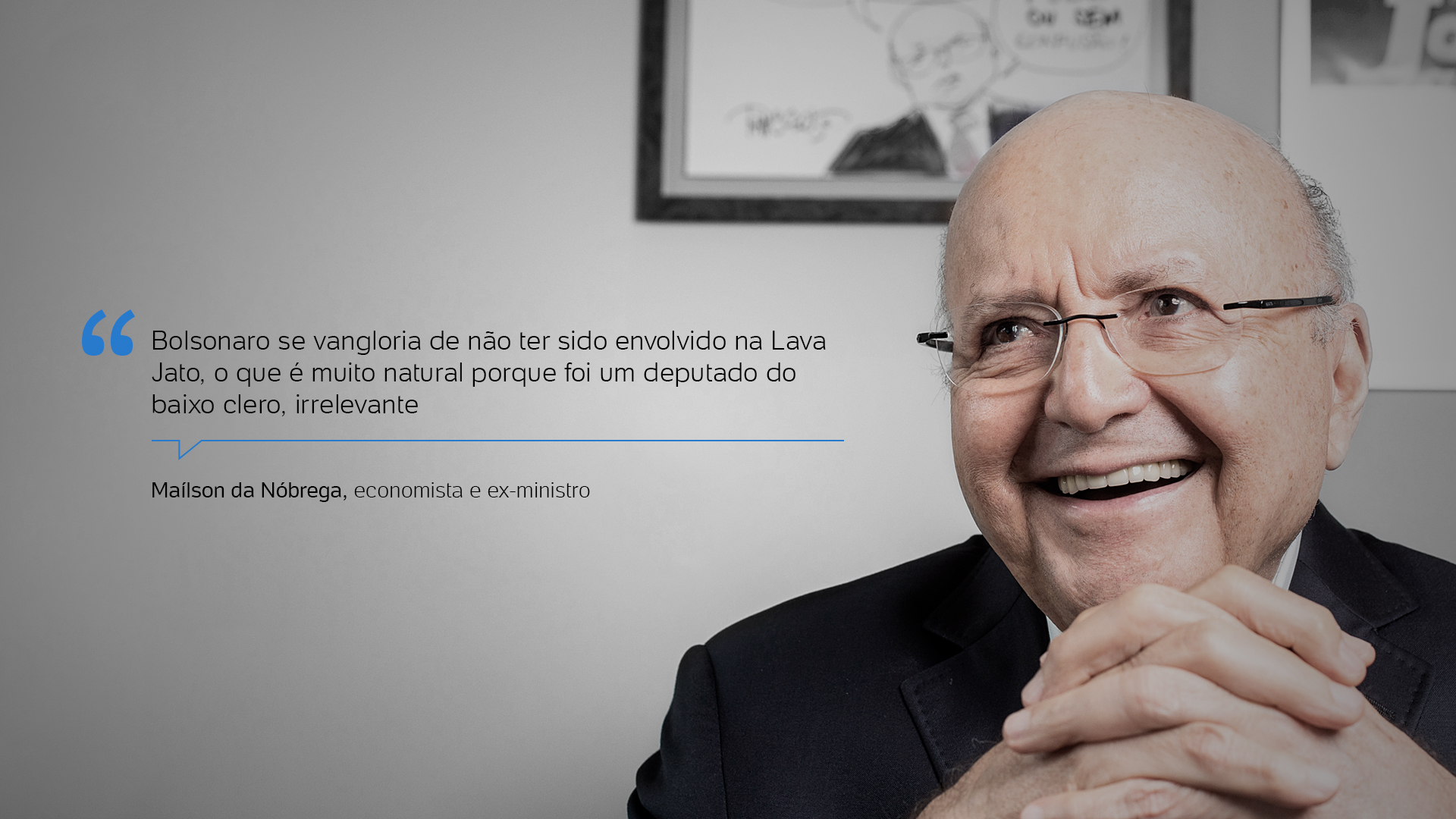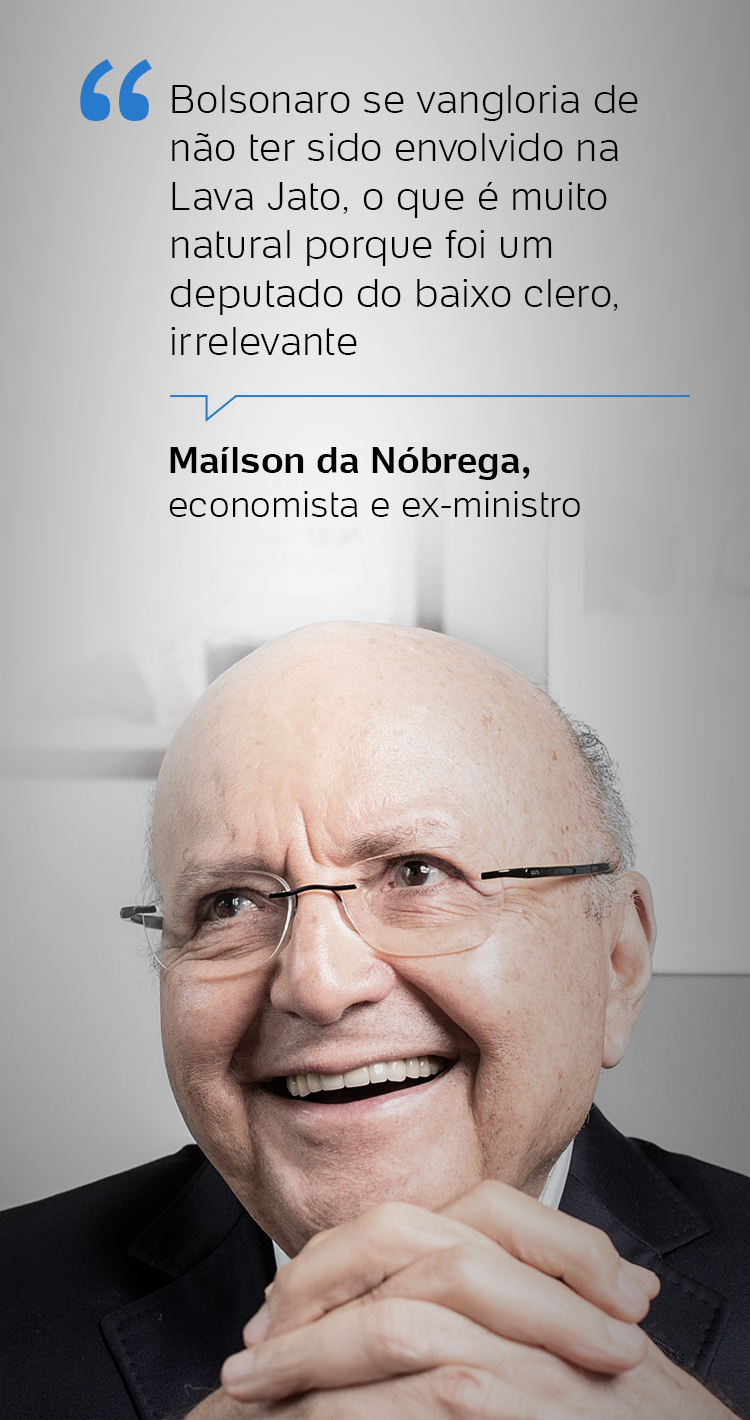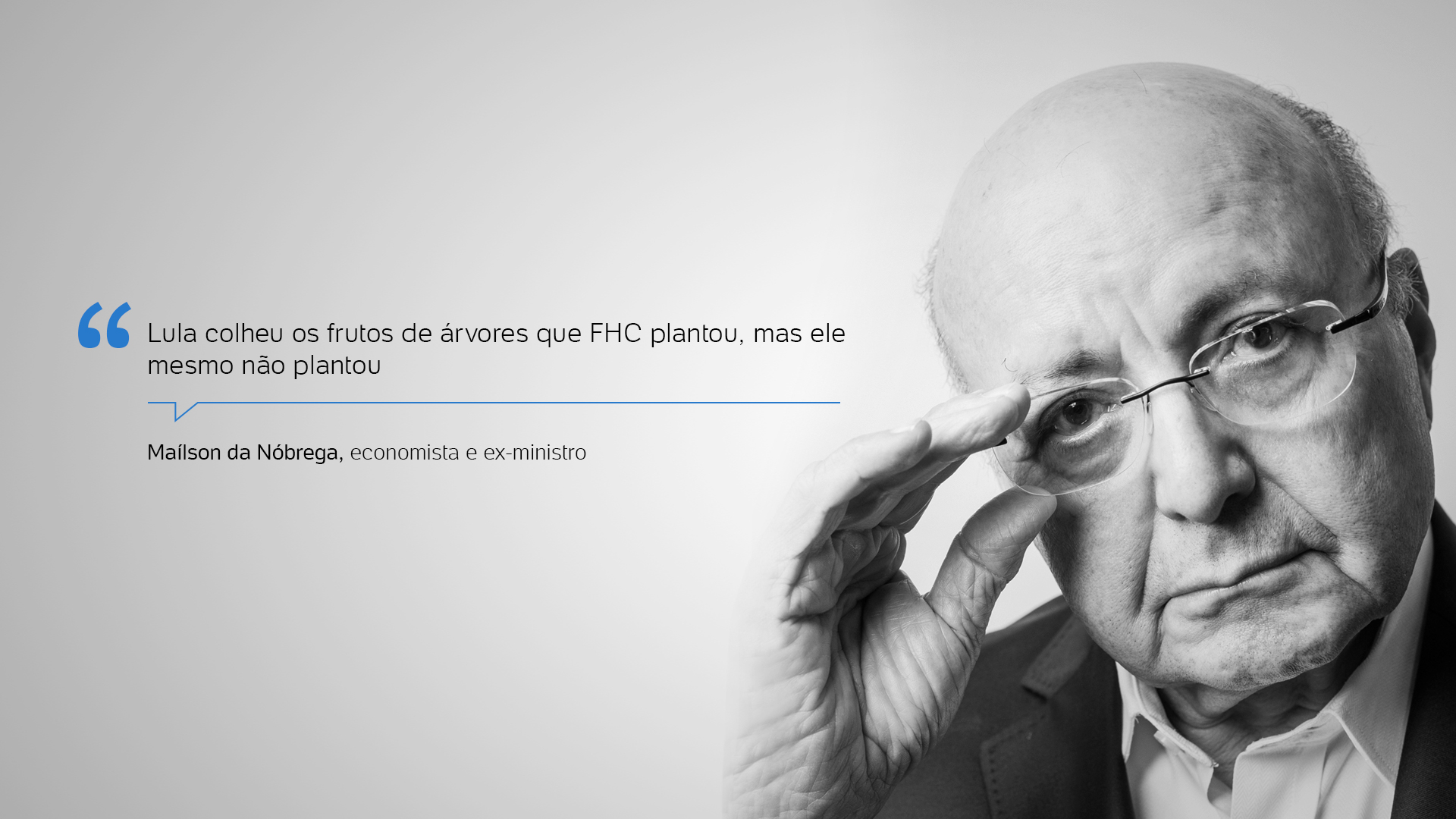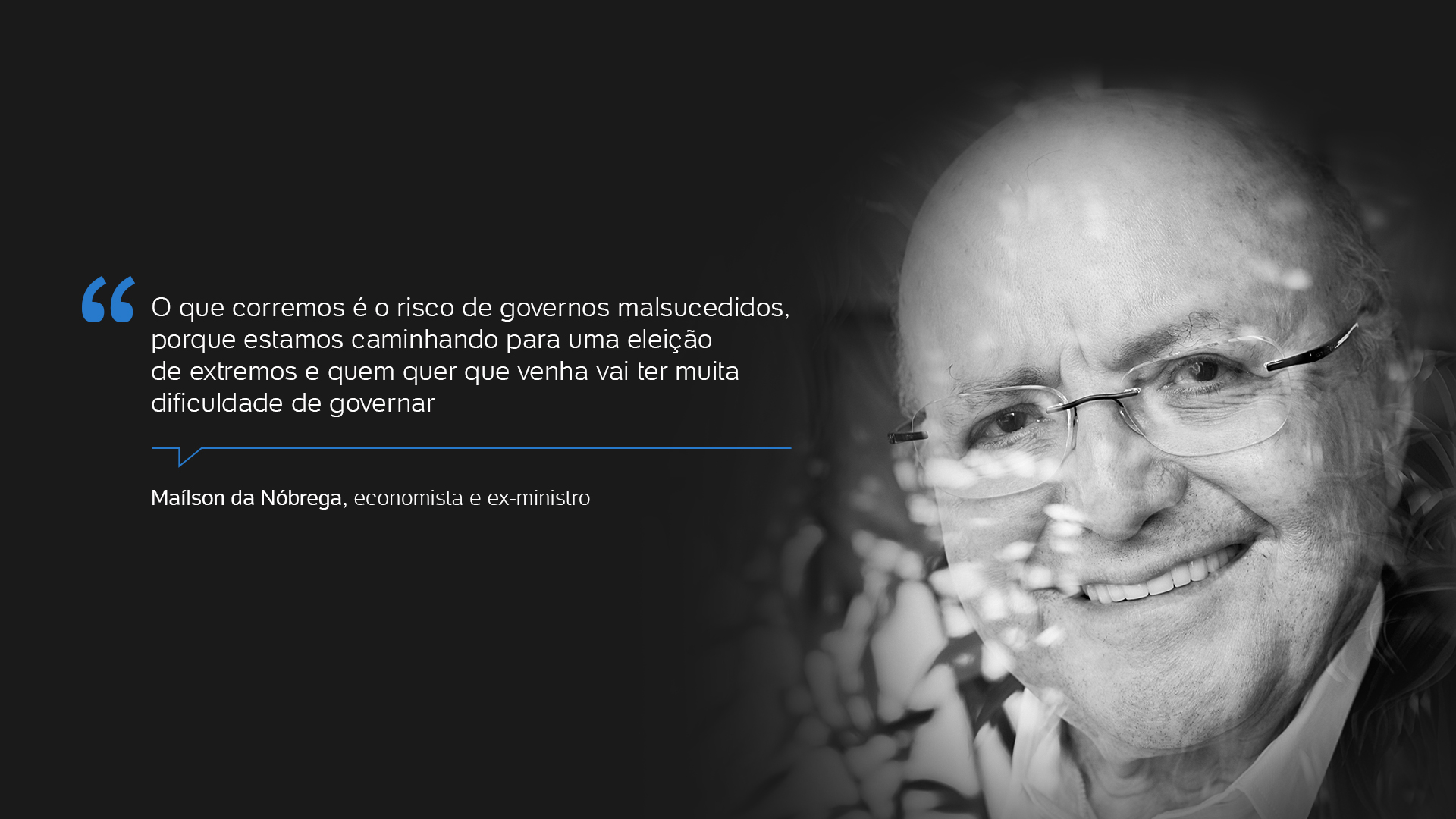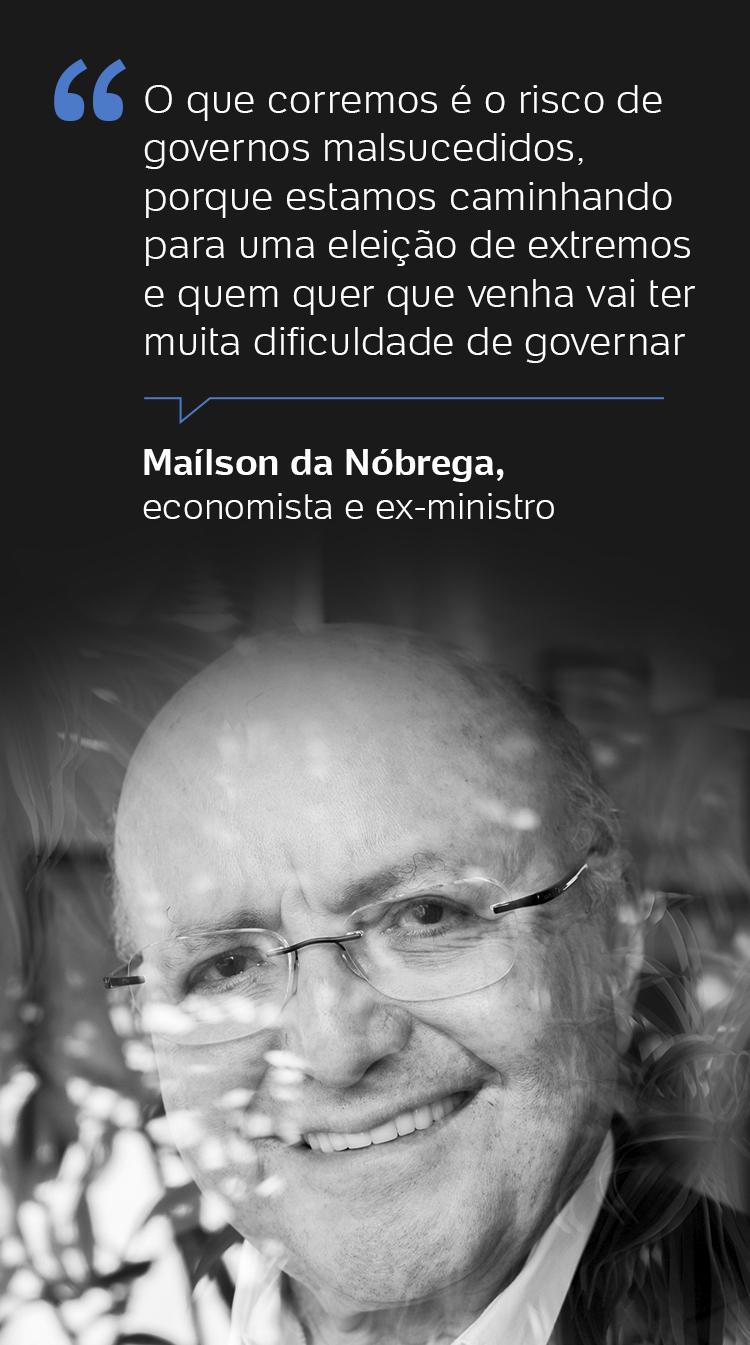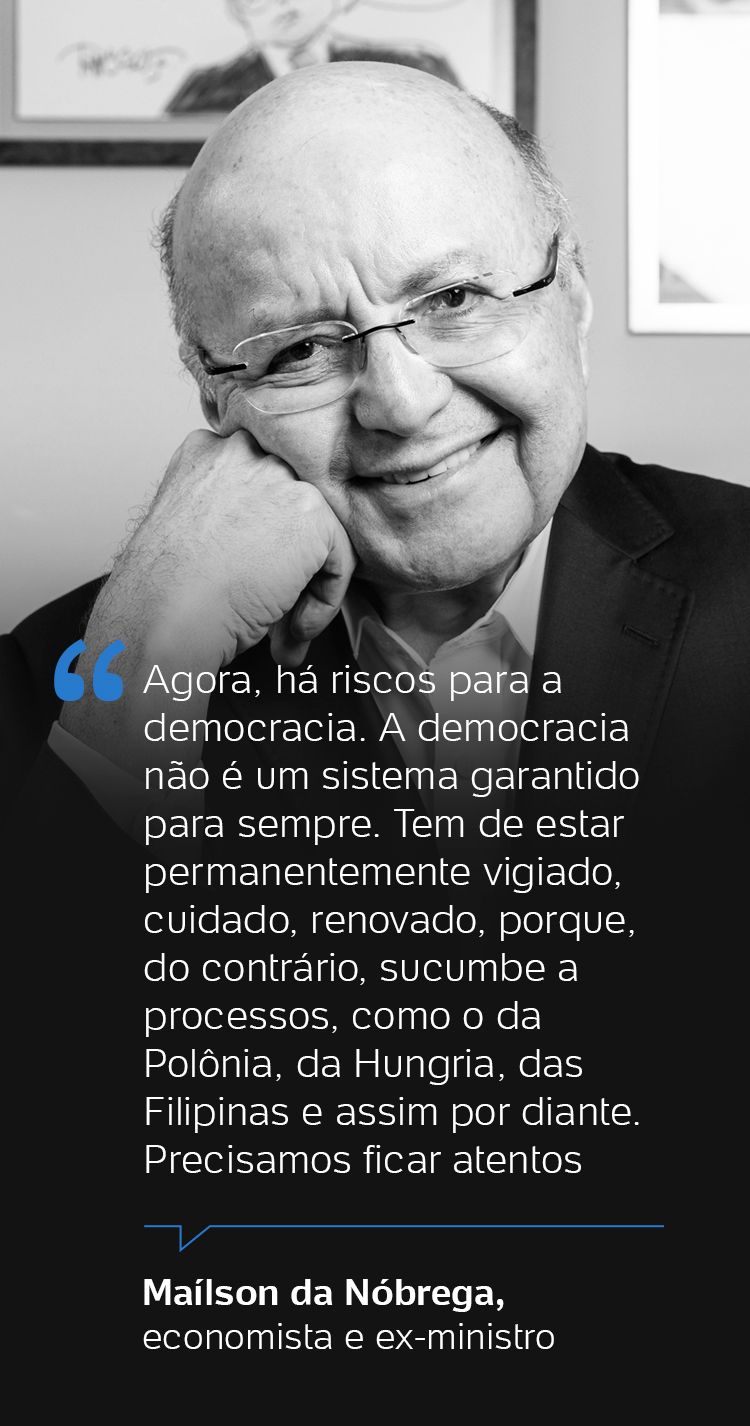Pablo Martinez Monsivais
Pablo Martinez Monsivais Força eleitoral antissistema: no Brasil e nos EUA
Para o economista Maílson da Nóbrega, observa-se agora no Brasil um sentimento que guarda semelhanças com o presente na disputa eleitoral nos Estados Unidos, em 2016, que deu a vitória a Trump.
"Ficou claro nesta eleição que no Brasil há um sentimento antiestablishment [contra o atual sistema político e institucional] semelhante ao que levou à eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, mas por razões diferentes [o republicano acabou eleito na disputa contra a democrata Hillary Clinton].
Lá era o desencanto, a desesperança com a estagnação da renda, a perda de 'status' dos postos de trabalho, a identificação da imigração com o descuido do establishment para cuidar dos interesses norte-americanos.
E mais: tinha começado a desaparecer a ideia do sonho norte-americano, que vinha pelo menos desde o século 19. Qual sonho? Cada geração é melhor do que a geração que a antecedeu. O norte-americano médio dizia: 'Será que o meu filho vai ter emprego? Vai ter uma vida melhor do que a minha?'.
Com um discurso populista, Trump explorou esse sentimento de forma muito competente: 'Me elejam, que faço um muro para deter a vinda dos mexicanos que tomam o emprego de vocês; vou obrigar as empresas norte-americanas a voltarem para os Estados Unidos; e vou drenar o pântano de Washington'.
Aqui no Brasil o sentimento antiestablishment é de outra origem. É uma indignação com a corrupção, o mau governo, os erros de gestão do PT, o desemprego e a falta de expectativa. Porque, mesmo quando [lideranças políticas e especialistas] disseram que a economia estava voltando a crescer, não foi o que se esperava. O desemprego continua muito alto e declinando muito lentamente.
Somado a isso houve um excesso da Operação Lava Jato [que investiga denúncias de corrupção com origem na Petrobras], que foi o da demonização da classe política. Foi possível, então, identificar essa desesperança e indignação da população com a classe política."