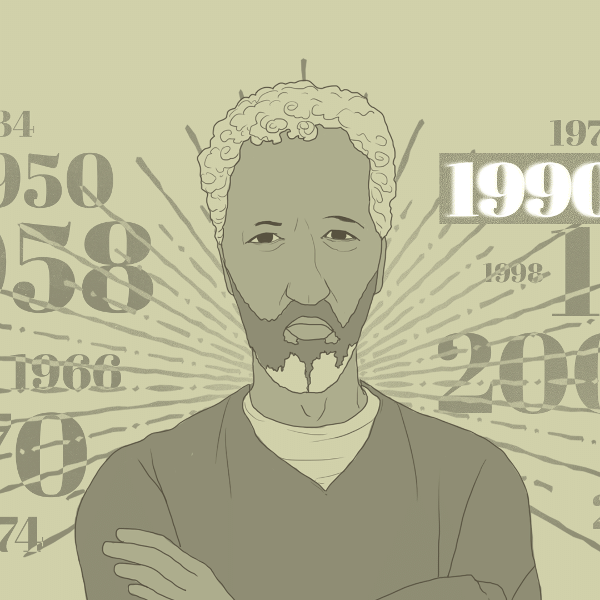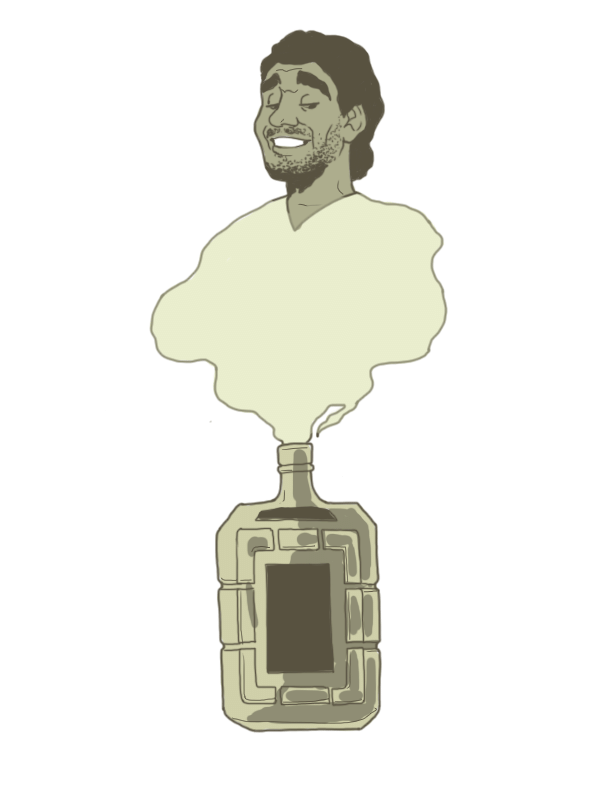 UOL
UOL 3-5-2, Maradona e uísque Logan
Vincular os resultados da seleção brasileira ao contexto político do país e do mundo nem sempre faz sentido. A apoteose de 1970 no México ocorreu no pior momento da tortura nos quartéis. O boom econômico dos anos Lula corresponde aos fiascos de 2006 e 2010. Momentos de esperança nacional, como a incipiente redemocratização em 1982 ou o Plano Real em 1994, deram tanto em derrotas quanto em vitórias.
Mas é sempre divertido fazer teoria em cima dessas possíveis coincidências. O melhor exemplo talvez seja o de 1990. Primeiro grande evento internacional realizado depois do fim da Guerra Fria – decretado oficialmente com a queda do Muro de Berlim, em 1989 –, a Copa da Itália marcou a rendição da mística do então tricampeão do mundo ao pragmatismo de um futebol em transição.
O tempo dos ídolos identificados com as camisas dos clubes, em que estilos como o de Zico, Falcão e Reinaldo viraram também os estilos clássicos de Flamengo, Inter e Atlético-MG, havia ficado para trás. Dez atletas do time que estreou no estádio Delle Alpi, em Turim, jogavam na Europa. No fim do percurso entre a liberdade do 4-4-2 da Espanha e a disciplina do 3-5-2 da Era Dunga, os comandados do técnico Sebastião Lazaroni eram estrelas de um esporte cada vez mais globalizado e taticamente uniforme.
Poucos anos foram tão trágicos, contraditórios e ridículos para o Brasil como 1990. O primeiro presidente eleito depois da ditadura havia sido do partido dos militares. A abertura liberal das importações conviveu com o mais intervencionista dos planos econômicos de nossa história. Gravatas Hermès e uísque Logan vestiam e davam mamadeira elegante a corruptos típicos de uma República de Bananas.
Se o recém-empossado governo Collor encarnava a jequice de quem queria virar global player enquanto reproduzia os piores vícios do nosso patrimonialismo e cara-de-pau, a seleção e seu entorno não ficavam muito atrás. Houve racha entre os jogadores na concentração e brigas por causa de prêmios em dinheiro. Ricardo Teixeira estava no segundo ano de seu mandato prometido como “saneador”, e um patrocínio da Pepsi nas camisas usadas pela equipe em treinos na Itália inaugurou a relação da CBF com a notória Traffic do notório J. Hawilla.
Quanto ao ridículo, Lazaroni deu contribuições importantes. Técnico que trouxe o terno e os sapatos cromados para as nossas casamatas, além de estrelar um comercial brasileiro da Fiat falado em italiano, suas entrevistas atualizavam o jargão tecnocrata do Claudio Coutinho de 1978 – dando pompa a termos como treinamento invisível e interação cinética para afirmar o poder intimidatório do professor em sintonia com a modernidade esportiva e cultural de ocasião.
O resultado prático desse discurso, uma praga beletrista que em décadas seguintes desaguaria nos “projetos” de Vanderlei Luxemburgo e na “jogabilidade” de Tite, foi o futebol burocrático que sufocou uma geração de nível semelhante às de 1994 e 2002. Os zagueiros convocados eram Mozer, Ricardo Gomes, Ricardo Rocha, Aldair e Mauro Galvão. Os atacantes eram Careca, Muller, Renato Gaúcho e a dupla Bebeto e Romário descontada. Dunga era campeão de acertos de passes e lançamentos, e de Valdo eu nunca falarei mal em homenagem à liturgia do meu gremismo.
Depois de três jogos cinzentos na primeira fase, com vitórias contra Suécia, Escócia e Costa Rica, a qualidade do conjunto foi aparecer justamente na partida que nos eliminou, nas oitavas. De novo uma contradição e uma tragédia: numa copa marcada por chuveirinhos e congestionamentos de meio campo, em que a promessa de futuro se baseava nas virtudes do rigor coletivo, a memória brasileira mais intensa e triste é a de um lampejo individual do grande craque do torneio anterior.
Nele, ao fim de 80 minutos em que havíamos dominado a Argentina com posse de bola, triangulações e três chutes na trave, o Maradona até então pouco inspirado de 1990 resolveu encarnar o gênio de 1986 ao impor sua majestade às limitações do próprio time – e da Copa da Itália, e do universo como o conhecemos – num passe para Claudio Caniggia.
Foi um retorno abrupto ao que éramos e seríamos naquele ano maldito. Nos minutos derradeiros do quinto fracasso seguido desde o México, a transmissão da Globo desmontou o oficialismo que até então havia marcado a torcida de Galvão Bueno e Pelé. Na sequência, Faustão lembrou que “o mundo não acaba” nessas derrotas: “Chega do tempo em que o governo e a política usavam o futebol”.
Como se sabe, ele tinha razão. E também não tinha. Desde 1970 não houve Médicis pegando carona de forma tão descarada na performance canarinho. Ao mesmo tempo, o mundo nunca precisou das Copas para dar a impressão de estar em seus últimos dias. Em 1990, e apesar dos sonhos deslumbrados de Lazaroni, Collor e companhia, todos sabíamos qual era a nossa realidade.
É só reparar nas imagens recuperadas daquele eterno Domingão: antes do discurso de consolo do apresentador, entram comerciais de remédio, embutidos, extrato de tomate e juros bancários, onde 28 dos 29 atores que aparecem são brancos. Um detalhe trágico a mais num país então mergulhado em inflação, fome, violência urbana e clipes de lambada. Para quem teme os apocalipses de 2018, talvez seja um alento lembrar que já convivemos com bestas iguais ou piores.