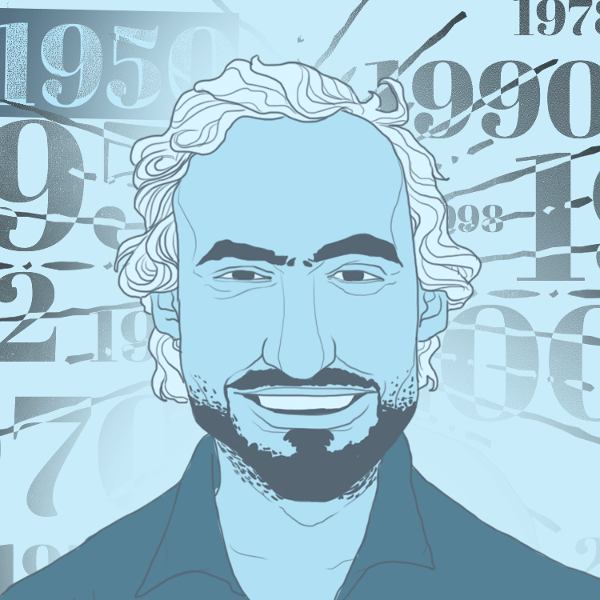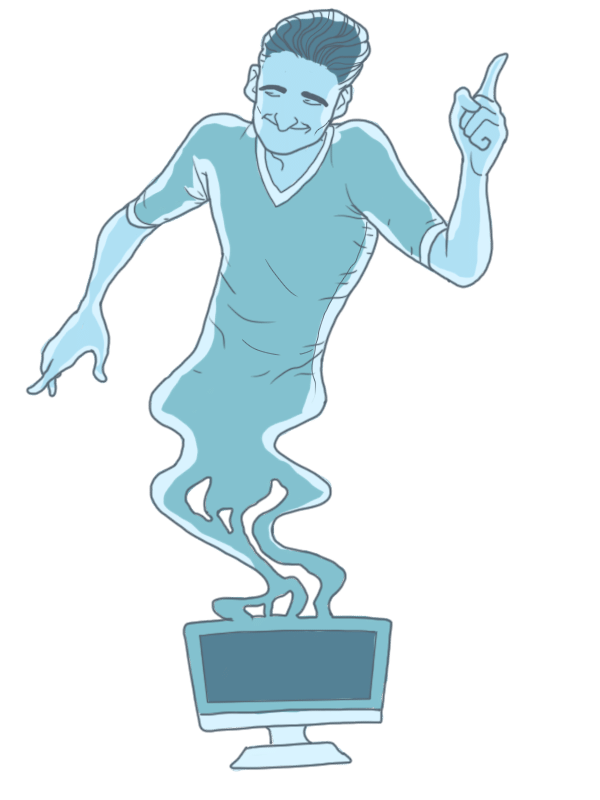 UOL
UOL 1950
A psicografia é um fenômeno lítero-espiritual amplamente conhecido. Livros psicografados são assíduos frequentadores da lista dos best-sellers e cartas escritas do além são aceitas por tribunais brasileiros como provas. Ou seja, é coisa muito séria.
Pois bem, para falar da Copa de 1950, resolvi recorrer à psicografia. Mas não quis invocar nosso goleiro Barbosa, que já explicou mil vezes aquela triste derrota. Achei que seria mais surpreendente fazer o contrário: convocar o espírito de Roque Máspoli, o arqueiro vencedor.
A fim de criar um clima propício para receber o ditado sobrenatural, coloquei um tango ao fundo, vesti uma camisa azul clara, preparei um chimarrão com ervas especiais e abri o notebook (sei que papel e lápis seriam mais apropriados, mas reescrever tudo daria muito trabalho).
Alguns minutos depois senti um certo torpor, meus dedos começaram a se mover sozinhos e psicodigitei, de uma só vez, o texto que se segue:
Sempre quis lhes contar a minha versão daquele dia. Vocês, brasileiros, só falam da derrota, nunca da vitória. Já era hora de mudar o punto de vista.
Naquele glorioso 16 de julio, acordei e fui ler os periódicos. Peguei o Jornal dos Sports e fiquei impressionado com o otimismo de algumas manchetes. Eram coisas como “Daqui a pouco, o título máximo”.
Quanto exagero! Davam a vitória como favas contadas.
Os colunistas falavam que as duas últimas exibições do Brasil tinham sido maravilhosas e esperavam algo parecido. Realmente os seus dois jogos anteriores foram soberbos. Venceram a Espanha por 6 a 1 e a Suécia por 7 a 1. Sete a um! Sabem o que é isso? Sim, vocês sabem. Desculpe lembrá-los.
Já nosotros tínhamos empatado com a Espanha em 2 a 2, marcando no finalzinho, e vencemos a Suécia por apertados 3 a 2, sendo que perdíamos por 2 a 1 até os 32 minutos do segundo tempo.
É claro que os brasileiros eram favoritos. Mas nem tanto. Dois meses antes tínhamos feito três jogos contra a sua seleção, pela Copa Rio Branco, e a parada foi dura.
No primeiro jogo, no Pacaembu, ganhamos de 4 a 3, sendo que um dos gols de vocês estava em claro impedimento. Na segunda partida, na cancha do Vasco de la Gama, o Brasil venceu por 2 a 1, mas o nosso Matias Gonzalez fez um inacreditável gol contra. E, na partida de desempate, de novo em San Januario, o Brasil venceu por 1 a 0, com um gol de Ademir aos 42’ do segundo tempo. Ou seja, eram duas equipes muy parelhas.
Depois de ler os jornais, eu e meus compañeros assistimos a uma missa. Provavelmente todos pedimos a mesma coisa: uma vitória milagrosa sobre o Brasil.
No almoço, em vez de comer no hotel, decidi ir a um restaurante. Eu já tinha me sentido indisposto antes do jogo contra a Suécia e acabei ficando de fora. E os espanhóis, que estavam hospedados conosco, comeram no hotel e passaram mal antes da partida contra o Brasil. Por via das dúvidas, resolvi não arriscar.
No vestiário, o técnico Juán Lopez Fontana fez sua preleção. Disse que tínhamos que nos defender ao máximo. Mas, no túnel, Obdulio Varela, nosso capitão, falou: “Esqueçam o que o Fontana disse. Não basta defender. Temos que atacar também. Senão seremos goleados como Espanha e Suécia”. E, se Obdulio falava, nós escutávamos.
Finalmente entramos em campo. Por Dios! Eram duzentas mil pessoas em festa. Que vibração, que alegria, que inferno! Nosso capitão, vendo a cara de espanto do time, aconselhou: “Não pensem nessa gente. Não olhem para cima!”
Na hora do hino, dois bons presságios: primeiro, a bandeira do Brasil tinha sido hasteada de cabeça para baixo. Depois, ganhamos no cara ou coroa. Escolhemos ficar do lado em que o Brasil sempre começava.
Estávamos calmos. Todos esperavam nossa derrota, de modo que não tínhamos nada a perder. Só Julio Perez, nosso meia direita, parecia um tanto agitado. Mas fez xixi ali mesmo no campo e logo estava mais relaxado.
Mal a partida começa e o Brasil quase marca, com uma bela cabeçada de Chico. Mas defendi. Com 32 anos, eu estava no auge da minha forma. Alguns meses antes tinha chegado a pesar 114 quilos e fui para a reserva no Peñarol. Mas, aos poucos, perdi peso (20 quilos!) e, quando o titular Pereyra se machucou, recuperei meu lugar no time e na Celeste.
Naquele primeiro tempo, o Brasil deu 17 chutes a gol e nós, apenas cinco. Mas a maioria dos petardos foi para longe. Nós marcávamos muito bem. Duros, mas sem violência. Tanto que fizemos cinco faltas e vocês, 12.
Fomos para o intervalo com 0 a 0 no placar. Não estava tão mal. Mas o empate daria o título ao Brasil.
No vestiário pensei em como tivemos sorte naquela Copa, porque as 13 seleções foram divididas em dois grupos de quatro, um de três e um de dois. Nós caímos neste último e, para melhorar, nosso adversário foi a Bolívia, que goleamos por 8 a 0 no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Era como se tivéssemos pegado um atalho para a fase final.
Voltamos para o segundo tempo e, logo aos dois minutos, Zizinho passou para Ademir e Ademir para Friaça, que tocou no meu contrapé. Falhei. Mais do que Barbosa no nosso segundo gol. Mas a história esqueceu. Ainda bem.
As reportagens de vocês sempre dizem que, depois deste gol, Obdulio botou a pelota debaixo do braço e foi discutir com o árbitro para esfriar o ânimo dos brasileiros. Que tontería! O que passou é que Friaça estava impedido! O juiz auxiliar até levantou sua bandeira, mas depois, não se sabe o porquê, abaixou-a. Por isso reclamamos. Estranhamente, no Brasil nunca se fala desse lance.
Depois desse gol, nós fomos para cima, explorando principalmente nosso lado direito com Ghiggia, que tinha marcado gols em todos os nossos três jogos. Aos 21 minutos, ele passou pelo lateral e cruzou para Schiaffino, o nosso craque, que mandou um lindo sem-pulo, sem a menor chance para Barbosa.
Comemorei, mas, ao mesmo tempo, pensei: “Pena que não teremos tempo para ganhar”. Só que aconteceu uma coisa inesperada. O Brasil desabou. Morreu. É que o público, que até o empate tinha feito um barulho fenomenal, ficou mudo. Houve um silêncio de pânico em todo o estádio que paralisou os jogadores. Depois disso o Brasil praticamente não atacou mais. Então fizemos o segundo. E poderíamos ter feito outro. Eles não reagiam. Estavam pálidos, gelados.
Às vezes até leio reportagens brasileiras dizendo que os últimos minutos foram dramáticos, com vocês perdendo vários gols. Puro exagero. Não pasó nada. O Brasil atacava pouco e mal.
Só levei um susto no finalzinho: houve um escanteio, pulei junto com Jair da Rosa Pinto e toquei na bola. Ela foi bater no braço de Gambetta e escutei o apito do juiz. Pensei: “Ele marcou pênalti”. Mas não. Tinha apitado o fim de jogo. Éramos campeões! Começamos a correr feito loucos, gritando “Uruguay, Uruguay!”.
O público estava calado nas arquibancadas. E nós, felizes no campo.
Curiosamente, o tempo passava, passava, e ninguém nos entregava a taça. Tudo estava preparado para a vitória do Brasil. Como nós é que ganhamos, ficaram sem saber o que fazer. Não houve guarda de honra, nem hino, nem discursos. Nem mesmo uma entrega oficial do troféu. Jules Rimet, no meio da multidão, era empurrado para todos os lados, com a Copa nos braços e sem saber o que fazer. Quando viu Obdulio, lhe entregou a taça sem dizer uma única palavra e foi embora.
Na manhã seguinte fui ler os jornais e fiquei sabendo os números do jogo: Barbosa tinha feito sete defesas. Eu, dezoito. Mas os números que contavam mesmo eram o 1 e o 2.
Do hotel fomos a pé para uma recepção em nossa embaixada. Caminhamos um quilômetro, alegres, cantando. E as pessoas, mesmo ainda tristes por sua decepção, nos aplaudiam.
O governo uruguaio mandou um avião especial para nos buscar. Antes, voltaríamos em voo comum. Curioso. Quando chegamos, a multidão era tão grande que Ghiggia falou: “Não sabia que havia tanta gente no Uruguai.”
Aquele jogo foi minha maior alegria como futebolista. Eu era para ser a grande vítima, o goleiro que seria vazado seis, sete, oito vezes. Mas, mesmo falhando, saí como herói. É injusto, mas é a verdade.
Falando nisso, espero que os torcedores brasileiros sejam mais justos com aqueles jogadores e conosco. Não foram eles que perderam. Fomos nós que ganhamos. Deixem suas almas em paz!
Roque Máspoli