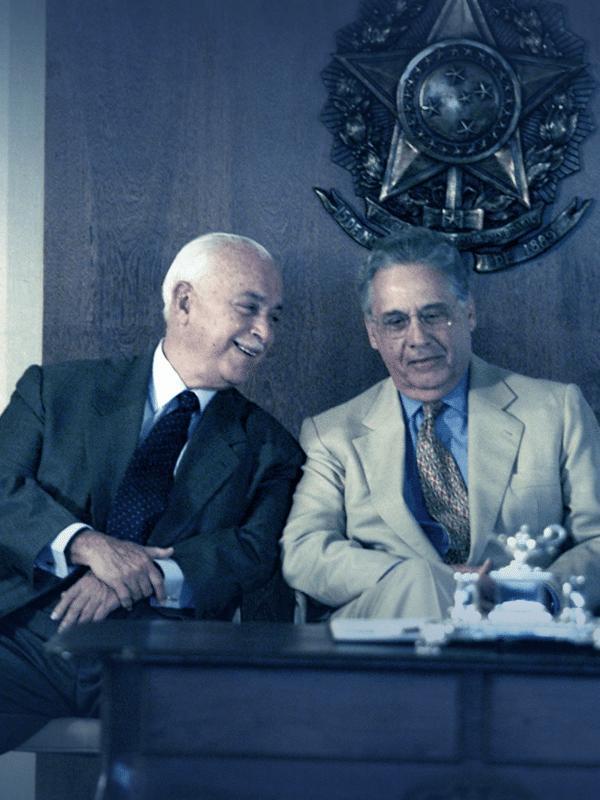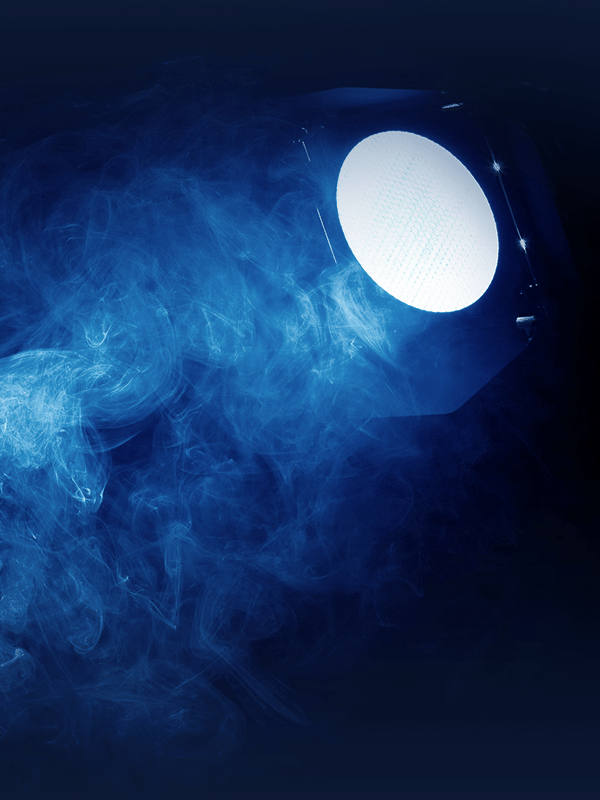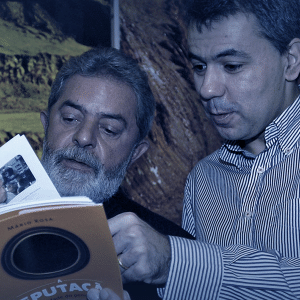Ao longo dos anos, após livros publicados, resenhas elogiosas na mídia e uma rotina de palestras ao redor do pais (onde sempre sobrava espaço para uma entrevistazinha numa rádio aqui, um artiguinho publicado ali, uma gravaçãozinha numa TV acolá), fui sendo procurado por tudo quanto é tipo de gente. E achava uma delícia. Problemas dos mais variados. O ?consultor de crises? aprendia muito com esses contatos. Não cobrava, mas ganhava muito mais com essas pessoas do que dava. Sou grato a todas elas pelo repertório de soluções e abordagens que permitiram expandir minha compreensão.
Meu ?modelo? de atendimento era híbrido, desde o início. Eu tinha uma categoria que era uma espécie de plano de saúde. Era o pessoal que me pagava: aqueles clientes (privados, sempre privados, nunca ganhei dinheiro público) que me contratassem, eu cobrava não digo caro, mas bem. Eram poucos clientes por ano, cinco, seis, em contratos normalmente anuais.
Já qualquer outra pessoa que me procurasse, de qualquer atividade, eu buscava sempre atender, mas não cobrava. Achava aquilo um treino. Eu tinha o tempo livre que meus poucos clientes me proporcionavam e podia gastá-lo como bem entendesse. Essa segunda categoria eu chamava de SUS, comparando com o Sistema Único de Saúde, gratuito e universal. Como o SUS de verdade, o meu vivia lotado.
Apelidei minha casa de cabana do "Pai Rosa". Acho que encarnei muitas vezes mesmo uma espécie de entidade espiritual de assessoria de imprensa. Era uma tenda de atendimento espiritual de imagens públicas misturado com consultoria mediúnica de comunicação, digamos assim. Algumas vezes, confortei a aflição dos chefes das tribos, de leões feridos que vinham apenas atrás de um afago na crista.
?Pai Rosa? estava sempre lá, com seus búzios.
Respeito imensamente todos os que acolhi naqueles despachos de catarse. Embora a expressão ?Pai Rosa? seja uma forma alegórica de tratar essas situações angustiantes e melindrosas, a busca da cura é sagrada e muito mais importante que o curandeiro. Representei algumas vezes esse papel de depositário da esperança alheia, sem menosprezar os meus interlocutores. Tentei ajudá-los dando o meu melhor aconselhamento ou, quando nada, a minha solidariedade pessoal.
Você já imaginou estar no lugar deles? Sua cara dia e noite estampada em todo lugar, sua família acuada e, o que é pior, uma vida inteira resumida e difundida pelo viés de uma única pecha que lhe pespegaram? Se você acha, ?bem feito?, tudo bem. Mas e se fosse com você? E se você se sentisse inocente? Bem feito? Cada um sabe onde o calo aperta.
Um dia, eu morava na Bahia, quando a então deputada Jaqueline Roriz foi até Salvador atrás do ?Pai Rosa?. O mandato dela estava por um fio por causa da divulgação de um vídeo em que um delator premiado aparecia dando um valor a ela e ao marido. Era dinheiro para campanha política. Mas a imagem estava em todas as TVs, e um processo de cassação do mandato dela, em curso. No final, ela manteve o mandato, mas naquele dia estava muito abalada.
Jaqueline pertencia a uma dinastia política, iniciada por seu pai, Joaquim, diversas vezes governador do Distrito Federal. Ela veio, almoçou e, de repente, começou a passar mal. Levei-a para o quarto de hóspedes. Ela ficou a tarde toda ali, muitas vezes chorando. Pai Rosa apenas orou por ela.
Noutra vez, um ministro do Supremo Tribunal Federal na época foi à cabana do Pai Rosa. Angustiado, porque estava apanhando muito pelas posições que adotara, nem sempre seguindo a maré dos editoriais. Ficou ali, tomando vinho, pedindo ?dicas?. Pai Rosa falou algumas palavras de apoio, alguns diagnósticos otimistas sobre o futuro. Foi quase um passe magnético e o ilustre magistrado foi levando a vida. Apresentei alguns colunistas a ele. Foi o máximo que fiz. Até as togas não são blindadas, sobretudo por dentro.
(Muita calma nessa hora: não quero ser jocoso apenas por ser. Pai Rosa, repito, mostra a busca desesperada da cura e não a eficácia do curandeiro, nem seu gracejo contra os desesperados. A autodepreciação foi um traço meu a vida toda. Não deveria estar nas minhas memórias? Além disso, dada a grandiosidade dos personagens, é melhor sair do salto alto. Por fim, se muitas vezes vi um certo tom autolaudatório de como a imprensa se vê e se descreve, por coerência tinha de sentar o pau em mim, não? Ou, talvez, seria a forma como um jornalista imparcial poderia descrever o consultor. Lembra-se? Fui jornalista. Vai ver que foi por isso.)
Pouco tempo depois, foi lá outro ministro, na época no STJ, a segunda mais alta instância da magistratura. Esse sofria mesmo. A bala perdida de uma associação ruim tinha ricocheteado em seu gabinete. Homem bom, estava ali prostrado.
Vamos aliviar um pouco, usando uma pequena gracinha: posso resumir a complexa aula magna de princípios universais do gerenciamento de crises que ministrei com uma simples palavra que simbolizaria metaforicamente tudo:
- Saravá!
Depois desse despacho, Pai Rosa desincorporou e o juiz voltou pra casa e pra vida com um pouco mais de paz. Quase como num ritual, algumas palavras de incentivo podem ajudar nessas horas. Não é enunciando tratados pseudotécnicos que podemos tranquilizar alguém. Às vezes, quase como num sacerdócio mesmo, um conceito de vida aqui ou ali reanima o ouvinte. Foi nesse sentido que usei a alegoria do Pai Rosa.
O médico Claudio Lottemberg, que já fora presidente do prestigioso hospital Albert Einstein e voltaria a ser, um dia me procurou com um problema que para ele era um sintoma grave. Pra mim, nem um resfriado. Médicos de altíssimo, altíssimo nível podem imaginar que qualquer arranhãozinho de imagem é uma fratura exposta gigante. Todo cuidado é pouco.
No caso daquele grande médico, o receio era como administrar a saída dele da Secretaria Municipal de Saúde, no governo do então prefeito, José Serra. Ele deixara a presidência do Einstein, fora para o governo com idealismo, mas desistira de continuar. O receio dele era que, você sabe como é a política, algum espertinho detonasse ele na saída. Qualquer arranhão?
Era madrugada quando ele me ligou. O meu SUS atendia a qualquer hora e, como você vê, até mesmo médicos. Na minha escala de enrascadas, aquele problema era como um selinho nos lábios no arsenal afetivo de Messalina. Eu disse:
- Quem tem de ficar com medo são eles. Parte pra cima. Se sentirem que você está frágil, vão lhe bater. Mas, se você ranger os dentes, vão sacudir o rabo.
Daí combinamos o texto da carta pessoal ao prefeito, o modo como ele deveria conduzir a conversa de desligamento. Eu escrevi um montão de coisas para ele. Falei ao telefone uma dezena de vezes. Foi tudo bem. Sem ruído.
Isso mostra que, muitas vezes, funções como a minha são a daquele cara que fica no canto do ringue gritando pro peso-pesado: ?Mete a porrada, esquiva, calma, não doeu!?. Qual o valor dessas coisas? Sei lá. Meu SUS era assim: eu ia cobrar por minuto? Preferia fazer de graça, às vezes, coisas que me tomavam muito mais tempo. Aliás, quando minha mulher teve câncer na tireoide, fui com ela para o Einstein. Sabia que Lottemberg ia cuidar de mim. Banco de Favores.
Se Deus usasse uniforme, certamente seria um jaleco. Pelo menos aqui na Terra. O consultor de crises conviveu com muitos médicos poderosos. Mas os vi de um prisma que nenhum paciente costuma: no leito da crise. Vi gigantes, que serão gigantes quando eu precisar deles, tremendo como meninos assustados. Eu os ajudei, sem cobrar, mas com um sentimento de amargo privilégio: o de poder ver de perto a fragilidade de quem está acostumado a ser visto como a imagem da salvação.
Uma vez, um desses gigantes me procurou desesperado. Não vou dar o nome e serei um tanto genérico. Ele não tinha culpa. Você certamente o viu inúmeras vezes na TV naqueles tempos. Uma cirurgia tinha tido uma pequena complicação. O paciente sobrevivera, mas a esposa tava aprontando poucas e boas. Tava chamando o Deus ali na minha frente de açougueiro. Muito articulada, a mulher tava causando, criando marolas.
O doutor estava em pânico, sobretudo depois que a madame fez a história circular nas redações. Alguns jornalistas ligaram para o consultório. Que sofrimento o daquele cara! Preparamos uma estratégia, recolhemos os prontuários, mas mais uma vez o fundamental foi o apoio no canto do ringue. Foi ajudar a separar o que era angústia, o que era possibilidade e o que era impossível. Era antecipar como a mídia ia tratar aquilo. Não saiu uma linha. Era só boato. Nessas horas, não é preciso ligar para jornalista nenhum, não é preciso criar nenhum plano mirabolante. É só chegar ao leito e sussurrar baixinho para o sujeito entubado:
- Está tudo bem?
O resto é com Deus.
Já que estamos falando de médicos, vamos falar de mais dois. Nos próximos capítulos, vou continuar falando do meu pronto socorro de reputações traumatizadas com outros atores. Por ora, os deuses. Médico é uma profissão pavorosa. É como piloto de Fórmula 1: do pódio ao túmulo em fração de segundo. Tanta gente o tratando como Deus por tanto tempo? difícil segurar a onda.
A dramaturgia já popularizou a bipolaridade que ronda os profissionais de medicina, no arquétipo de ?O Médico e o Monstro?, com Dr. Jekyll e Mr. Hyde (?hide?, em inglês, não por acaso, quer dizer esconder). Em termos de reputação, a alternativa ao médico é virar monstro. É descobrirem que existe um demônio escondido no jaleco. É o céu ou o inferno. Quando tá tudo bem, é doutor pra cá, o senhor salvou minha vida pra lá. Qualquer coisinha e pode ser assassino, monstro e por aí vai.
Por favor, peço agora um pouco de sua atenção. Vou tratar de algo muito delicado. Não poderia, em respeito aos seus sentimentos, fazer uma passagem abrupta para o próximo tema. Creio que devo preparar um pouco sua sensibilidade e pedir que tente sintonizar a melindrosa frequência que iremos acessar. É preciso fazer uma transição cautelosa neste ponto da narrativa.
Não iria jamais menosprezar sua forma de sentir e de pensar, seus princípios de humanidade. Mas convido-o a tentar entender a perspectiva muito singular com que vamos observar uma situação. Melhor recorrer a uma metáfora.
Um funcionário do IML é certamente alguém com sentimentos e emoções, alguém como nós. Mas, no dia a dia, por força das contingências do destino, ele acaba adquirindo uma forma peculiar de conviver com corpos sem vida, o tempo todo. Claro, para qualquer pessoa comum, como eu e você, é chocante a experiência de ver uma pessoa morta. Já, para um profissional do IML, é preciso adquirir uma forma de distanciamento da situação para não se deixar ser tomado pelas angústias inerentes à atividade.
Dessa mesma forma de lidar os correspondentes de guerra precisam dispor todos os dias, todas as horas, diante das brutalidades que encaram por força da profissão.
Ha determinados ofícios em que os sentimentos pessoais são colocados de lado, em circunstâncias extremas. Isso não significa de modo algum que a sua forma de encarar o mesmo fato seja menos correta, sobretudo ao ver um drama e se indignar com ele. O "distanciamento" profissional exigido de certas profissões não representa a negação daquilo que você considera certo ou errado.
É por isso que lhe rogo que veja a situação a seguir não apenas com o seu olhar, mas procure de alguma forma captar o de quem estava numa interação que não faz parte do seu mundo, como não faz parte nem do meu nem do seu lidar com a morte todos os dias.
Nosso sentimento de horror deve ser compreendido por aqueles que encaram a situação de luto como parte da rotina. Do mesmo modo, não podemos condená-los por se comportarem de uma forma diferente da nossa. Só conseguimos essa compreensão quando entendemos a natureza daquela atividade.
Vou fazer agora um breve relato sem adjetivos e sem muita emoção. Respeito profundamente o seu olhar, mas tente por favor também olhar através do ângulo em que vivi a situação.
Alguém sempre pode dizer que funcionários de IML e correspondentes de guerra exercem uma profissão de interesse público. Mas também é verdade que advogados que defendem seus acusados de algo hediondo só o fazem porque há um elevado princípio civilizatório que assegura a todos, sem distinção, o direito de defesa. Mesmo que uma sociedade esteja convencida em relação à culpa de um determinado réu, essa mesma sociedade assegura o amplo contraditório mesmo para esses símbolos que chocam os sentimentos de uma população.
Conheci o médico Roger Abdelmassih com a imagem já bastante destruída, mas ainda não terminal. Contextualizando: ele foi acusado de 52 estupros por uma lista de pacientes. Foi condenado em primeira instância e estava preso cumprindo pena de 278 anos, na cadeia de Tremembé, quando eu escrevia este livro. A acusação era que tirara proveito das vítimas enquanto estavam sob efeito de sedativos.
Eu, como ser humano, pai de uma filha, me solidarizei sempre com qualquer vítima de abusos sexuais. É um crime inaceitável, intolerável, repugnante.
Roger nunca foi meu cliente. Acabou-se tornando, pode-se avaliar agora, numa perspectiva mais distante no tempo, uma espécie de objeto de estudo. Um instrumento de análise. Com isso, não quero negar-lhe a observância mínima de sua condição de indivíduo. Nem tenho essa divina atribuição. Fui um ser humano falho, imperfeito, com erros e acertos. E foi esse ser que conviveu com outro ser, nesse período. E não com uma coisa. Não foi desse modo que interagimos. Seria cinismo dizer que estavam ali uma pessoa e uma coisa. Nos relacionamos como dois seres, dialogando, ouvindo, falando. Convivendo.
Só agora, fazendo essa reflexão sobre o que vivi ali, é que lhe transmito sob esse ângulo -- distante, frio e analítico -- um aspecto do que testemunhei.
Nos contatos com ele, tive a estranha possibilidade de observar um ser na situação extrema em que se encontrava. Pude acessar percepções quase únicas de como é estar na posição que a vida o colocou.
Ele me foi apresentado por seu criminalista, meu amigo querido, José Luís de Oliveira Lima, o Juca. Almocei, jantei, estive com ele dezenas e dezenas de vezes. Acompanhei sua agonia, falei com ele ao telefone em incontáveis ocasiões, vi aquele homem outrora poderoso ir deslizando pouco a pouco pelo ralo do destino que o Criador lhe reservou.
Ter estado com ele nunca significou da minha parte ser condescendente, de qualquer forma, com as acusações terríveis que lhe imputaram dezenas de mulheres, descrevendo o sofrimento atroz que registraram em seus depoimentos pungentes.
Fui movido exclusivamente pela curiosidade profissional e também por um impulso, de alguma forma, humano. Eu não era como um padre que visitava um condenado e lhe dava bençãos antes do corredor da morte. Mas pratiquei, de alguma forma, um gesto humano. Testemunhei, assim, um ângulo dessa dolorosa história e agora posso examinar sob a ótica de um personagem central de uma tragédia. Vivi para contar.
Roger morava num palacete, numa rua nobre do bairro dos Jardins, em São Paulo. Fizera fortuna como um dos pioneiros da técnica de fertilização in vitro, para reprodução humana. No auge, era o médico das celebridades: o rei do futebol Pelé, a rainha dos baixinhos Xuxa, o apresentador Gugu Liberato. Era a encarnação do médico ?do bem?. Bonachão, gente bacana em volta.
Roger levava a vida em grande estilo. Me contou detalhes de suas estadas na Europa, quando alugava aeronaves privadas para o deslocamento da família, fretava embarcações para cruzeiros pelo Mediterrâneo, ficava em hotéis dos endinheirados. Ele acelerava.
Minha sensação é que, em algum momento, como um balão de gás, ele se soltou na atmosfera.
Sempre negou as acusações para mim. Inúmeras vezes jantei com ele e a mulher, Larissa, uma ex-procuradora federal simpática e entusiasmada que entrou na vida dele depois do escândalo e era fervorosamente defensora do marido. Ela conhecia o processo de cor e alegava que Roger tivera a situação jurídica agravada por uma legislação nova que ampliava o conceito de estupro para coisas que antes não eram consideradas assim. Tiveram duas filhas.
Ele tinha sido uma pessoa pra cima, mas o vi sempre acabrunhado, sem nunca perder na minha frente um mínimo da compostura. Nunca chorou (vi tantos chorarem?). Nunca perdeu o equilíbrio e entendia perfeitamente que estava numa enrascada, embora lutasse para se salvar.
Eram mais sessões psicoterápicas do que qualquer outra coisa. E sessões de suporte, também, de certa forma. Era, sobretudo, um amparo. Não entrei jamais no mérito do que as vítimas atribuíam a ele. Ali, estive apenas presente vendo de perto uma ruína humana.
Nessas horas, as pessoas não têm com quem falar. Os amigos se afastam. No caso de Roger, até os filhos saíram de perto. Então, qualquer um que fizesse a caridade de apenas quebrar a rotina, era algum alívio. Se fosse uma pessoa de fora, como eu, então, tanto melhor.
Eu ia lá e prestava atencão a cada detalhe. Não sabia como aquilo ia acabar, mas achava, como sempre, que estava ali não apenas por mim, mas para compor um quadro que um dia poderia influenciar meus aconselhamentos ou para compartilhar essas percepções com outros, como o faço agora.
Poder conversar, ouvir, olhar. Pesquisar uma experiência viva. Para Roger, era bom: eu não ia vazar aquelas conversas para ninguém. Do meu ponto de vista, um treinamento numa situação extremamente complicada. Nunca desconsiderei sua condição, mas havia de alguma forma um exercício de minha prática forense de reputações.
Fui vendo, com o passar do tempo, as paredes irem perdendo seus quadros, as peças de decoração saindo da paisagem, a manutenção da casa decaindo ligeiramente, o serviço de jantar ficando longe da ribalta de outros tempos. Porque fiquei bastante tempo observando, fui vendo com uma grande angular a inclinação lenta e constante da ladeira de Roger.
Cheguei a vê-lo conversar com alguns jornalistas. Ele sempre mantinha a esperança de alguma cura milagrosa para seus males: pacientes são assim. Guardo a imagem de um homem carregando seu fardo e definhando lentamente à medida que a estrada se mostrava inapelavelmente íngreme e sem fim. O vi pela última vez poucos dias antes de ele decidir deixar o Brasil fugido. Soube disso pela imprensa. Foi para o Paraguai e, anos depois, foi capturado.
Ele gostava de fazer pequenas mesuras, mesmo nas condições precárias em que estava. Fazia questão de dirigir pessoalmente e de me levar até o hotel, próximo de sua casa. Logo no início em que me foi apresentado, ele insistia sempre em ter ?uma relação profissional?. Já conhecia aquela história.
Pessoas destruídas, mesmo em dificuldades financeiras, queriam contratar o consultor de crises e pagar alguma coisa, de alguma forma. Quando eu me recusava e dizia que estaria ali de graça, podia parecer que elas estavam tão leprosas que nem o enfermeiro queria tocar. Ou pior: que nunca mais veria o enfermeiro se, de alguma forma, não houvesse um vínculo financeiro. Então, eu declinava o contato financeiro, mas as aplacava não sumindo, estando presente regularmente e disponível.
Roger, ainda com algum garbo e não querendo se sentir tão por baixo, insistiu durante um ano ou mais com a tal da ?relação profissional?. Depois de dizer inúmeros ?não precisa, deixa disso, fique tranquilo?, naquele dia eu pontuei com um pouco mais de crueldade. Não sei se fiz certo:
- Doutor Roger, se o senhor tivesse estuprado o erário, as pessoas não iam gostar, mas o crime de colarinho-branco elas talvez até conseguissem entender. Se eu trabalhar para o senhor, não vou conseguir ajudá-lo e ainda vou me atrapalhar.
Ele sorriu um pouco amarelo e nunca mais voltou ao assunto. Um dia, mandou lá pra casa uma pequena escultura de cristal da marca Lalique. Refletia muito a estética dele. Guardei. Um torso feminino.
De fato, embora haja sempre uma onda de moralidade varrendo as sociedades, os crimes financeiros de alguma forma são vistos com menos horror do que os de sangue. Prova disso é que eu nunca vi um filme de assalto de banco em que a plateia torcesse para o banqueiro.
Com Roger, a vez que vi de forma contundente que tudo era muito mais grave foi quando ele me convidou para passar numa pizzaria de classe média alta, perto da casa dele. Ele queria cumprimentar a filha. Fui no impulso. Chegando lá, cruzando o salão, fui vendo a cara de nojo das pessoas em direção a nós numa escala que nunca vira antes. E olha que uma vez, no auge do mensalão, tinha ido encontrar o ex-ministro Jose Dirceu num restaurante e fomos recebidos com vaias, gritos, apupos do restaurante inteiro. Fiquei com medo de levar um tapa, mas foi diferente naquela vez com Roger. Não havia o mínimo, do mínimo de um mínimo de empatia com ele. Foi tudo silencioso, mas eu fiquei assustado.
Um caso bacana de meu SUS pessoal foi ajudar um grande médico a assumir uma responsabilidade espinhosa. Na véspera de tomar posse como secretário da Saúde do estado de São Paulo, o infectologista David Uip chamou o consultor de crises para um bate-papo que se estendeu até as duas da manhã. A posse seria horas depois. O então ministro da Saúde, Alexandre Padilha, era pré-candidato a governador de São Paulo pelo PT. Portanto, a área de Uip era uma frente de batalha crucial na guerra eleitoral do ano seguinte. Havia um programa do governo federal, o Mais Médicos, que era barato e politicamente arrasador: levava médicos para onde não havia.
Naquela noite, definimos as linhas do discurso de Uip: o de que ele era um médico indignado com a saúde do Brasil e que não acreditava em maquiagens. Ele estava cutucando o futuro adversário do chefe que o empossava, Geraldo Alckmin, do PSDB, politizando um pouco seu perfil, que sempre fora técnico.
O maior desafio de um conselheiro, nessas horas, é dizer o óbvio. As pessoas que estão no palco, diante da plateia, estão cansadas, com mil coisas para pensar. O consultor nessas horas não precisa ser nenhum gênio. Basta encontrar no meio daquilo tudo o óbvio e oferecê-lo para degustação.
Sempre tive bons amigos médicos. Quando eu estiver na UTI, espero que eles não me façam sofrer além do necessário. Uma mão lava a outra.

 Foto: Jorge Araujo/Folhapress
Foto: Jorge Araujo/Folhapress