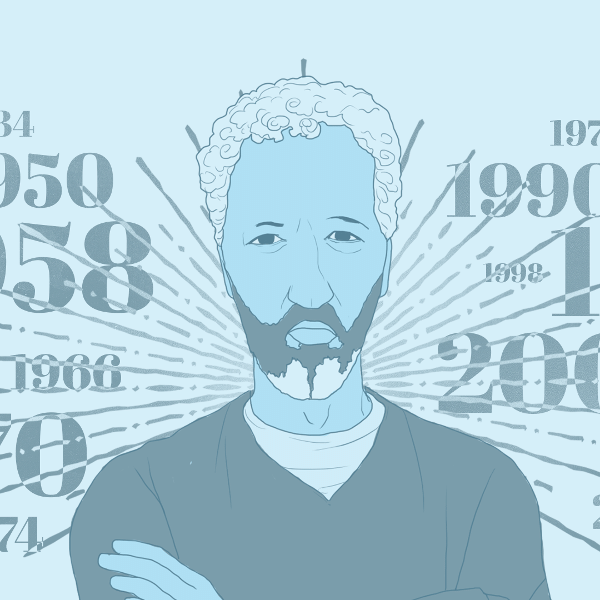UOL
UOL O veneno do acaso
No livro “Veneno Remédio” (Companhia das Letras, 446 páginas), o santista José Miguel Wisnik se pergunta se o fato de ter crescido na era Pelé, quando uma criança recém iniciada nos estádios era exposta à “força daqueles fatos”, como se eles fossem naturais no futebol e na vida, não teria produzido em sua personalidade uma “incurável tendência de ver sentido em tudo”.
É uma boa pergunta otimista, que só poderia ser feita em chave oposta por quem tomou consciência de torcedor nos anos 1980. Ao menos no caso do torcedor da seleção brasileira: enquanto a Copa da Espanha ainda é uma memória com traços da ternura da infância, na qual o choro tem também as cores vivas do Sarriá e o cheiro de tuti-fruti das figurinhas do álbum da Ping Pong colecionado aos 9 anos, os eventos de 1986 consolidaram na minha adolescência a noção nada poética de um universo inconfiável e cruel.
Não que o time presente no México pela segunda vez em dezesseis anos fosse espetacular. A geração de Zico, Sócrates e Falcão estava descontada por lesões ou já fazia a curva descendente. Renato Gaúcho havia sido cortado porque ajudou Leandro a pular o muro da concentração. Só vencemos a Espanha na estreia por erros do juiz a nosso favor. A dupla Elzo e Alemão está para a história do meio campo da seleção mais ou menos como as duplas sertanejas atuais estão para a história da música.
Ainda assim, a antológica derrota para a França nas quartas de final – como a antológica eliminação de 1982, na mesma fase – carrega algo estranho a traumas como os de 1950 ou 2014. Não o complexo de vira-latas rodriguiano, com sua descrença moral numa possibilidade de mudança que no fim das contas era factível contra o Uruguai no Maracanã, nem a admissão revoltada de nossa incompetência técnica, administrativa e política durante e depois do 7 a 1 – e sim um sentimento algo metafísico, mais fatalismo do que espanto, mais lamento do que raiva por causa das injustiças do acaso.
Em função disso, ao término de uma das melhores partidas de todas as Copas a que assisti, e a despeito das qualidades do time francês, não achamos culpados maiores que a maldição de três bolas na trave, inúmeras chances jogadas fora, um pênalti que teve rebote por causa das costas do nosso goleiro e outros dois perdidos por grandes ídolos do Brasil moderno.
No primeiro, Zico encerrou uma espécie de jornada do herói pautada apenas pela tragédia – do joelho operado por causa da entrada criminosa de um lateral do Bangu em 1985 à defesa de Bats aos 28 da etapa final, passando pelos meses intermináveis de fisioterapia que jamais trariam a recompensa de um título mundial inédito.
No segundo, já no desempate depois da prorrogação, e de acordo com um depoimento dado a Juca Kfouri, Sócrates fez o que não costumava fazer em decisões por pênaltis: seguindo uma ordem de Telê Santana, abriu a série em vez de ser o quinto a bater, não tendo tempo, assim, de observar o comportamento do goleiro adversário.
Os raríssimos erros de ambos têm atenuantes físicas. Zico cobrou logo ao entrar em campo substituindo Muller, ainda frio, e Sócrates era um veterano que correra 120 minutos e estava com a musculatura extenuada. Apesar disso, não dá para dissociar do fracasso duplo o possível peso psicológico das expectativas sobre nossa safra mais virtuosa e elegante desde 1970.
Era uma sombra que se estendia pelo tempo, cobrindo o período tumultuado da preparação entre 1982 e 1986, com a saída e a volta de um Telê ainda mais detalhista, fechado e teimoso, e pelo espaço: o medo que contaminava quem estava longe de Guadalajara e perto do crescente anticlímax da segunda metade da década – eu tomando Nescau em frente a uma TV de tubo aos 13 anos, em Porto Alegre, num país de redemocratização recente e já repleta de baixas.
Enxergar nos caprichos punitivos da providência futebolística um prolongamento dos caprichos punitivos da realidade externa às quatro linhas era natural. Ser adolescente por volta de 1986 era experimentar a alegria da vitória de Tancredo Neves e a ressaca de sua morte antes da posse, o sonho da estabilização econômica vinda com o Plano Cruzado e o pesadelo de seu fracasso logo adiante, o começo da vida sexual e o fantasma galopante da Aids.
Há vários modos de ver como tal oscilação entre promessas retumbantes e desfechos catastróficos acompanhou a psicologia das arquibancadas nas décadas seguintes. Por um lado, o próprio futebol se encarregou de fechar seus ciclos: os mesmos detalhes fatais da regra que derrotou o Brasil em 1986 nos dariam a vitória em 1994, com uma cobrança bizarramente desperdiçada por Roberto Baggio em Pasadena.
Por outro, em relação a quem cresceu vendo os times de 1958 a 1970, ou os de 1994 a 2002, nossa geração de 1982-1990 levará para sempre a marca de quem morreu e achou que ressuscitaria e morreu de novo a cada quatro anos – numa idade, não esqueçamos, em que esse período equivale à eternidade.
Numa entrevista que deu a Sócrates em 2011, Zico diz que a tristeza do México foi até maior que a da Espanha. Fazendo referência ao sacrifício para estar em campo contra a França, longe da melhor forma e da melhor sorte, ele sintetiza o espírito do adolescente que também passaria a “ver sentido em tudo” naquela tarde de sol físico e tempestade existencial no estádio Jalisco: “Parece que eu estava adivinhando o final da história”. Não era muito difícil.